
Ensaio publicado na revista Void número 100 em 2014.
Uma das queixas mais comuns que se escuta hoje em dia em diversos momentos e círculos sociais é a ideia vaga porém muito forte de que “as coisas estão mudando tão rápido que isso tudo acaba deixando a gente meio paralisado”. Segundo esse conceito, a velocidade das mudanças e o alto volume de novas informações colocariam as pessoas num estado de torpor, aturdidas, perdidas e sem rumo, o que inclusive explicaria o comportamento meio esquizofrênico e sem noção de muitos de nós, que parecíamos tão normaizinhos até uns anos atrás. Mesmo as Gerações Y, Z ou qualquer outra letra nova, não estão imunes ao frenesi causado pela enxurrada de novidades que se derramam sobre elas todos os dias. Gente que surta no grupo de Whatsapp, que revela seu lado psicopata no Facebook e que se mete em encrencas por causa de um Snapchat mal pensado: com tantos novos protocolos tecnológicos e sociais surgindo o tempo todo, como não ficar fora da casinha?
O futurista americano Alvin Toffler tinha um culpado pra isso: o futuro. Em um popular best-seller de 1970, ele chamou a confusão que vivemos de “Future Shock”, ou seja, “o disruptivo stress e a desorientação que induzimos a indivíduos por sujeitá-los a mudanças demais em um curto período de tempo.” A explicação faz sentido e vinha descrevendo muito bem o que passamos na era da internet ubíqua e dos gadgets que cabem no bolsinho do pijama. Mas virou o século e talvez seja a hora de parar de botar a culpa no campo gravitacional que o futuro vinha exercendo sobre nós. Nosso problema, no mundo e especialmente no Brasil atual, não é o que vem pela frente. É o que está aqui hoje. É o presente.
Essa é a perspectiva que o escritor, documentarista, professor e especialista em mídia, cultura e tecnologia Douglas Rushkoff defende. Quatro décadas depois de Alvin Toffler, ele propõe que o presente, e não o futuro, é o tempo que está verdadeiramente nos assombrando, pressionando e confundindo. Em “Present Shock: When Everything Happens Now”, lançado em 2013 (mas ainda atual, incrível!!), Rushkoff estabelece 5 formas como o presente está nos tirando do nosso eixo: o Colapso Narrativo; a Esquizofrenia Digital (Digiphrenia); a tentativa de condensar longas escalas de tempo no hoje, o Hipergiro (Overwinding); a paranoia em tentar criar conexões entre tudo que encontramos pela frente ou Fractalnóia; e a tendência de buscar um fim grandioso para a humanidade diante de um presente tão intenso – o que ele chama de Apocalypto. O superstar da literatura de ficção científica William Gibson, criador do conceito de ciberespaço, já disse que “o futuro já está aí, só é mal distribuído”. Pois o presente é tão amplamente democrático que chega a ser avassalador. Você pode fugir do passado e não ser agraciado com a antecipação do futuro. Mas estamos todos invariavelmente condenados ao presente, sempre.
O Brasil, munido de sua de inequívoca vocação para surfar com graça e estilo o buffet livre que é o século 21, se tornou nos últimos 15 anos um excelente campo de investigação do conceito de Present Shock. Historicamente, somos uma nação marcada pelo presenteísmo: nossos colonizadores e monarcas não tinha planos futuros para nós; nos tornamos república sem nunca abandonar um certo apreço por Reis e Rainhas, tivemos um Presidente que quis condensar 50 anos em 5, uma Ditadura Militar que não conseguia se decidir entre ir pra frente ou pra trás; e, finalmente, chegamos a um presente que nos permite viver toda nossa trajetória em um único tempo. Nos tornamos conectados mantendo um certo apartheid cultural, empregados sem erradicar o trabalho escravo, cidadãos globais colonizados por nossas próprias fronteiras, um país evoluído sem deixar de ser subdesenvolvido, um emergente cujos discursos na ONU dão a impressão que o futuro já chegou mas cuja irrelevância geopolítica nos lembra que o passado ainda vive. Cinco séculos depois de Cabral, ainda estamos nos descobrindo. Estou fechando esse texto poucas semanas depois da eleição na qual Dilma foi reeleita e manifestações caricatas lideradas pelo Lobão pedem a volta da Ditadura. Hoje é 2014 e 1984 e 1968 e 1889 e 1933 e 1500 – tudo ao mesmo tempo agora, como bem disseram os Titãs. Somos puro Present Shock.
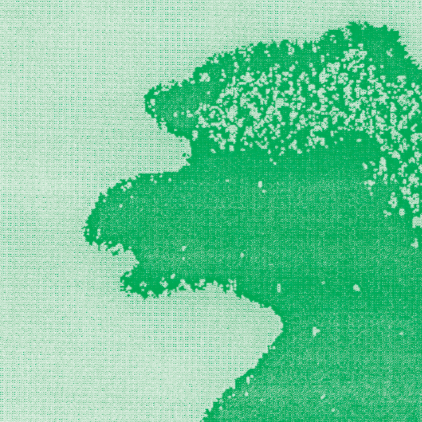
Colapso Narrativo
Rushkoff define o Colpaso Narrativo, um dos pilares do Present Shock, como o abandono das narrativas lineares, aquelas com início, meio e fim, em formatos mitológicos e conectadas com a história da humanidade. Seus exemplos são todos americanos: a auto-referência suspensa no tempo e no espaço dos Simpsons; a fragmentação e o vazio dos reality shows; e a obsessão dos políticos conservadores do Tea Party em resolver tudo com um simplismo truculento e de funcionamento instantâneo. Para os americanos, sua Constituição de meia dúzia de páginas e um projeto de nação claro, o Colapso Narrativo se manifesta de maneira mais pragmática: é quando as coisas que estavam organizadas saem do lugar. No Brasil, é diferente. Nosso grande Colapso Narrativo se deu nos Protestos de Junho de 2013, quando pela primeira vez uma reunião absolutamente inclassificável de brasileiros foi às ruas de maneira intensa e interrompeu o samba enredo tradicional que vinha cantando o povo cordato e passivo. As coisas não estavam organizadas e ainda assim saíram mais do lugar.
A narrativa da esquerda x direita foi colapsada com o distanciamento entre os movimentos sociais e o Governo do PT. A narrativa grande mídia versus mídia alternativa foi colapsada na colaboração (involuntária) de ambas na troca de imagens para benefício mútuo. Foram dias de muito pouca linearidade e absoluta incompreensão. O passado não explicava o que acontecia e o futuro era insondável. Não estávamos em choque com nossa história ou nossos projetos. Estávamos absolutamente chocados com a intensidade do presente. E continuamos preso nisso mais de um ano depois que tudo explodiu. O passado não vai embora e o futuro se recusa a chegar. A política brasileira virou um grande Dia da Marmota.
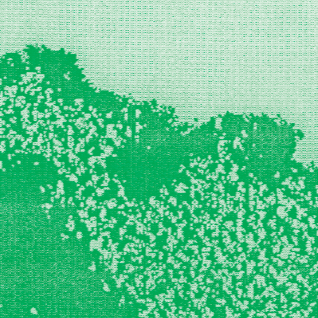
Esquizofrenia Digital
Já a Esquizofrenia Digital, ou Digiphrenia, é exemplificada de maneira dramática por Rushkoff na figura dos pilotos americanos de drones que realizam missões no Afeganistão durante o dia e, já que pilotam à distância direto de uma base em território americano, vão pra casa à noite jantar em casa. “A simulação de vôo, a resolução das câmeras, o feedback instantâneo e a acuidade dos controles tornaram o piloto de realidade virtual tão eficiente quanto se estivesse em um cockpit real.” relata o autor antes de se perguntar: “Nossas tropas e nosso público se desconectarão ainda mais das consequências humanas e dos estragos colaterais de nossas ações?” Durante uma pesquisa para uma reportagem sobre drones, Rushkoff descobriu que os pilotos de drones sofrem de stress igual ou maior do que os pilotos de aeronaves tripuladas. O irônico motivo? Eles estão descontextualizados do cenário de guerra: “depois que um piloto de drone termina sua missão, ele entra em seu carro e dirige até sua família nos subúrbios de Las Vegas. Ele passa o purê de batatas pra sua mulher e tenta conversar sobre os problemas de escola de seus filhos enquanto as imagens de alvos afegãos que neutralizou mais cedo ainda dançam em sua retina.” Essa desconexão só é possível graças à tecnologia, que permite aos pilotos viverem duas vidas, de geografia, códigos sociais e tempos diferentes ao mesmo: isso é Digifrenia.
No Brasil, uma das faces visíveis e mais coloridas da Digifrenia é a exuberante cena do Funk Ostentação. Nascido por volta de 2008 quase como uma mutação do código genético do Funk Carioca, o Ostentação se criou na periferia de São Paulo turbinado pela inclusão econômica de milhares de brasileiros, que passaram a ter um acesso a dois elementos que, misturados, pegaram fogo: bens de consumo e internet. Se os códigos visuais do Funk Carioca remetem à precariedade e ao improviso, o Funk Ostentação resolveu viver do bom e do melhor. Seus clips trazem MCs usando as marcas de luxo pra se vestir, beber, se divertir e se locomover. Já os fãs adotaram o que foi possível. Se a Land Rover está fora do radar, um cordão dourado, o boné chamativo e as roupas de marcas acessíveis dão conta do recado. Se ao olhar ao redor o que se vê é o busão, a quebrada e o emprego tedioso, ao baixar os olhos para a tela do smartphone e colocar os fones, é possível submergir no mundo total do Ostentação: carros caros, filmes bacanas, música ilimitada, mulheres estonteantes, roupas incríveis, tudo a um download ou streaming gratuito de distância. Digifrenia na veia.

Hipergiro
O terceiro pilar do “Present Shock” é o Hipergiro, que Rushkof define como a nossa “perda de habilidade para distinguir diferentes escalas de tempo e começar a sujeitar um nível de atividade pelas limitações de tempo de outra”. Em outras palavras, é quando um campeonato esportivo tem seu calendário definido pelo tempo dos contratos comerciais e não pela necessidade de recuperação pós-jogo dos atletas; quando políticos agem para responder à mídia da semana e não aos ciclos mais lentos de desenvolvimento que o país precisa; quando procurar o litro mais barato de gasolina para a viagem de feriadão nos faz esquecer os milhares de anos que levaram para que material fossilizado se tornasse combustível. Em todas essas situações, existe um âmbito de condensamento de tempo no qual parece que tentamos dar corda mais rápido para que o relógio ande mais rápido.
No Brasil, acabamos de viver isso de forma descarada. Em ano de eleições, é comum que décadas sejam condensadas em algumas semanas, mas com as mídias digitais tão à mão de tanta gente, esse processo é coletivo e radicalizado. O fato de candidatos e seus seguidores poderem espremer realizações passadas e projetos futuros no tempo presente até tudo caber em um infográfico ou em um vídeo que pode ser compartilhado e reproduzido por milhões de eleitores é um indutor do estado de Present Shock. Em um popular meme, por exemplo, os anos Lula/Dilma e FHC foram reduzidos a estatísticas pop que comparavam o número de shows do Iron Maiden ou do Paul McCarney no Brasil nos mandatos de cada um: 20 anos de política e cultura pop e alguns poucos centímetros quadrados. Outro grande meme desta eleição também foi baseado na ideia de Hipergiro: um debate inteiro, com suas perguntas, respostas, réplicas e tréplicas foi editado em um pequeno clip de 3 minutos todo construído com a repetição das expressões mais usadas por cada candidato. Um vídeo que flutuava entre o território da zoeira e do comentário político mas totalmente baseado na ideia de que talvez não valha a pena ouvir candidatos durante 100 minutos quando 3 dão conta do recado. Não queremos mais o discurso, queremos a nuvem de tags. Queremos o Hipergiro. Queremos adiantar o relógio e mexer no presente quando ele não nos convém.

Apocalypto e Fractalnóia
As eleições deste ano também são uma boa forma de explicar o conceito de Apocalypto, “a crença na transformação iminente da humanidade em um formato desconhecido” segundo Rushkoff. A adoção mainstream da cultura de zumbis, antes um arquétipo do cinema cult, é a manifestação mais óbvia de Apocalypto. A trama de zumbis oferece tudo que precisamos no estado de Present Shock. Em meio ao colapso das narrativas tradicionais, reféns de uma nova Esquizofrenia Digital e espremidos no tempo do Hipergiro, a ameaça dos mortos-vivos é de uma simplicidade cativante: é preciso encontrar recursos, evitar ser mordido e atirar no próximo zumbi. Nem uma criança tem uma vida tão descomplicada. Como diz o capítulo sobre Apocalyto de Present Shock, “o desmoronar da civilização devido a acidente nuclear, escassez de petróleo ou contaminação viral finalmente represa uma cascata infinita de estímulos de mídia, vazamentos tóxicos, formulários de impostos e pagamento de dívidas, abrindo caminho para uma vida de cultivo de alimentos, busca de abrigo e talvez defesa da própria família.” Escolher uma catástrofe de proporções mundiais em vez de acordar segunda e ir trabalhar: quem nunca?
Voltando às eleições: as consequências futuras da escolha desse ou daquele candidato a Presidente também foram exploradas pelos opositores num sentido Apocalypto. Para os eleitores mais radicais de Dilma, uma vitória de Aécio jogaria o país instantaneamente numa cenário de extrema direita, com a supressão das conquistas sociais e a adoção de um capitalismo selvagem na mais literal das acepções. O cenário pintado por algumas pessoas era apavorante, com a possibilidade de um golpe militar e de um recrudescimento da miséria em um nível que já havia sido deixada para trás. Já os adeptos mais fervorosos de Aécio apostaram na ideia de que um novo mandado de Dilma transformaria o Brasil em um regime totalitário comunista, com uma franca ameaça às liberdades individuais e uma paralisia econômica comparável à falência de alguns estados do Leste Europeu durante os anos 80.
Em ambos os casos, a construção dessas fantasias apresentava o mesmo caráter tranquilizador da ideia de Apocalypto: “para muitos, é mais fácil ou ao menos mais reconfortante abordar esses problemas como intratáveis. Eles são muito complexos ou envolveriam níveis de acordo, de cooperação ou coordenação que parecem além da capacidade humana nesse estágio da cultura, pelo menos. Então, em vez de fazer o trabalho duro de consertar esses problemas no presente, fantasiamos sobre a vida que vem depois de tudo.” No caso das nossas eleições, fantasiar sobre desdobramentos extremos foi uma saída muito mais fácil do que o trabalho duro de encontrar mínimos denominadores comuns para emendar profundos rachas políticos e sociais. O Apocalypto brasileiro também remete a outra abordagem do conceito de Present Shock chamado Fractalnoia: “dar sentido a nosso mundo inteiramente no presente estabelecendo conexões entre as coisas – às vezes inapropriadamente.” Juntar teoria da conspiração com fatalismo em uma eleição majoritária é o caminho certo para a insanidade que muitos tomaram.
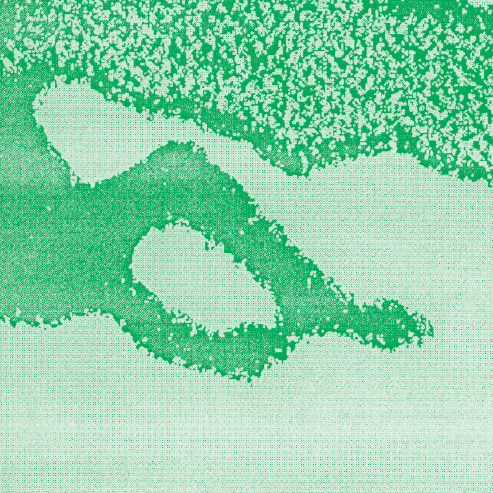
Rushkoff fecha Present Shock, o livro, justamente com um chamado à sanidade. A despeito de todos os estímulos e fragmentações do nosso tempo, ele acredita que podemos “parar o ataque constante à nossa atenção”; “criar espaços seguros para a contemplação sem interrupções”; “dar a cada momento o valor que merece e não mais do que isso”; “tolerar a incerteza e resistir à tentação de criar conexões e conclusões antes de estarmos prontos”; e “desacelerar ou mesmo ignorar a aparente inevitabilidade do magnetismo que o fim da humanidade exerce sobre nós”.
Curiosamente, a solução de muitos obstáculos que o Choque de Presente nos impõe como brasileiros é retornar a outros aspectos da nossa identidade coletiva que sempre nos deram algum tipo de ancoramento. Contra o Colapso Narrativo, vale lembrar que estamos inseridos num momento histórico que pode, sim, ser visto como linear, deixando o passado ser passado e o futuro ser planejado e executado antes de vivido falsamente; contra a Esquizofrenia Digital, poderíamos temperar a influência dos códigos que viajam pelas mídias digitais com nossa vocação pra viver o que há de mais pulsante nas ruas; contra o Hipergiro, nada melhor do que uma temporada na praia; contra a Fractalnoia, a audição massiva da discografia clássica de Jorge Ben, que ofusca qualquer teórico da conspiração com letras de conexões muito mais divertidas; e, por fim, contra Apocalypto, o melhor antídoto é clássica a frase do diplomata brasileiro na França na década de 60, Carlos Alves de Souza FIlho: “o Brasil não é um país sério”. Só países sérios enfrentam apocalipses grandiosos. Portanto, fique tranquilo, bote sua Void embaixo do braço, meta os pés numas Havaianas (elas previnem choque!) e se mande pra praia ouvindo Jorge Ben, de preferência num CD no som do carro, com o smarphone desligado, deixando o passado na sexta-feira e permitindo que o futuro chegue apenas na segunda.
